Para baixar o livro gratuitamente, clique na imagem e selecione-o em:
↓
---
Disponível provisoriamente em "Google Drive", no link abaixo:
↓
---
A obra Inocência e o nacionalismo: há afinidade entre eles?
O romance romântico
fundamentou-se na descrição e na análise das relações humanas na sociedade.
Alguns aspectos tomados da realidade, como lugares, personagens-padrão, tipos
sociais, convenções, usos e costumes foram princípios norteadores para os
escritores os transformarem segundo uma norma, “um ponto de vista, uma posição,
uma doutrina (política, artística, moral) mediante a qual o autor opera sobre a
realidade, selecionando e agrupando os seus vários aspectos segundo uma
diretriz”. (CANDIDO, 1981, p. 111).
O nacionalismo consistiu na cor
local enquanto o romance foi além. Preocupou-se com a descrição dos elementos
da realidade, estabelecendo uma ligação entre os romances. Para Antônio Candido
(1981), as produções mais características dos escritores românticos elaboraram
a realidade graças ao ponto de vista, à posição intelectual e afetiva que
norteou todo o nosso Romantismo, a saber, o nacionalismo literário.
O nacionalismo romântico
propiciou a descrição de costumes, paisagens, fatos que possibilitassem a
libertação dos modelos da literatura clássica e universal que imperava desde
então, cedendo lugar para o individual, o particular, o característico.
Quanto à matéria, o romance
brasileiro nasceu regionalista e de costumes pela descrição dos tipos humanos e
formas de vida social nas cidades e campos. O apelo ao espaço foi
preponderante, sobrepondo-se até as personagens, a forma de vida e os tipos: “o
que se vai formando e permanecendo na imaginação do leitor é um Brasil colorido
e multiforme, que a criação artística sobrepõe à realidade geográfica e
social”. (CANDIDO, 1981, p. 114). Dessa forma, os romances
se expandiram para as províncias do norte, do sul, do interior.
Os temas românticos que o
nacionalismo exigia privilegiavam o exotismo para o deleite do homem da cidade
e se ajustava ao romancista e o homem rústico do interior ou com alguma
aproximação com a civilização. O regionalismo serviu para confirmar a autonomia
literária, apesar de haver alguns problemas de estilização: “quando se fala na
irrealidade ou convencionalismo dos romancistas românticos, é preciso notar que
os bons, dentre eles, não foram irreais na descrição da realidade social, mas
apenas nas situações narrativas”. (CANDIDO, 1981, p. 116).
Os românticos Bernardo Guimarães,
Alencar, Taunay e Távora tinham em comum a região, o lugar de acontecimentos,
atos, sentimentos e aspectos humanos que tomaram relevo em suas obras, situado
em um quadro natural e social, em que as personagens existiam independentemente
das peculiaridades regionais.
A obra Inocência constituía
aproximação da autenticidade dos modelos românticos regionais, inserindo personagens,
costumes, a natureza, a hospitalidade do sertanejo, observados durante as
viagens do autor. As datas que iniciam e finalizam a narrativa, pela fidelidade
a esses elementos, reforçam o caráter documental da ficção. Entretanto, a obra
não se dá somente dessa forma, há a invenção e a deformação como componentes da
elaboração narrativa que transfigura a realidade para a ficção. Comenta Antônio
Candido (1981):
O
entrecho e o quadro sertanejo serviram para delimitar e informar a sua
experiência pessoal, que, ao projetar-se desta maneira na forma artística, pôde
satisfazer anseios menos conscientes de expressão afetiva. Aí talvez esteja o
segredo deste romance que supera de tão alto as produções e transposições da
realidade, entre as quais ele o incluía com orgulho. (CANDIDO, 1981, p. 313).
Seguindo a linha de buscar a
originalidade do representante brasileiro para alguns românticos, o indígena já
não cumpria essa função. E também não será o negro consagrado numa
religiosidade cristã que representará a personagem romântica. A opção é o homem
branco, do interior, pois ele se encontrava pouco afetado pelas influências
externas, ou seja, pela civilização, e especificamente pelos ideais de
inspiração européia. Assim, o sentimento do nacionalismo, tão apregoado no
indianismo ainda vigorava e também se constituiria um dos pilares para a
formação da temática sertaneja, que, segundo José Maurício Gomes Almeida (1999,
p. 38), “são as razões que poderíamos
encontrar para o surgimento da temática sertanista, mas todas têm raiz no mesmo
sentimento de orgulho nacionalista que inspirava o indianismo”.
O enredo de Inocência, diante
desse nacionalismo, não significava muita coisa quanto à representatividade
nacionalista, com exceção do primeiro capítulo, que se distingue do resto da
obra e podemos considerá-lo à parte do romance, servindo de informação, crendo
na possibilidade do desconhecimento do leitor sobre as paisagens e a rotina do
viajante pelo sertão.
As descrições contidas seguem a
fidelidade da observação de uma região do país, o que representa uma das
características românticas. E também configuram o nacionalismo quanto à
exposição da natureza. Esta parte diferencia-se do enredo sendo, que no
romance, acreditamos não haver o predomínio dos elementos nacionalistas, e sim,
a representação das rememorações e lembranças do autor. O nacionalismo também
ficou marcado quanto ao pensamento e à atitude do autor. Taunay participou da
Guerra do Paraguai, oportunidade marcante para sua carreira política e também
literária e que contribuiu para o autor formular um olhar diferenciado do
nacionalismo, que, até então, não tinha o mesmo vigor.
A guerra traria uma perspectiva
de atrair as atenções para o interior, configurando uma nação que não só
contemple os centros urbanos e políticos do país para ir “além ou aquém dos
limites litorâneos tradicionais” (MARETTI, 2006, p. 70). Segundo Maria Lídia L.
Maretti (2006), nas obras de Taunay, existem argumentos que contrariam a idéia
de nação maquiada, ou seja, a unidade nacional tão apregoada fora construída a
partir dos poucos conhecimentos que se tinha sobre o tema, pois ninguém da
corte as conhecia ou mal conhecia. Essa questão norteará quase todas as
produções do escritor e político Taunay do segundo reinado5. Assim, as suas produções fundaram-se
nas viagens missionárias, passando a conhecer muito o interior do Brasil,
experiência esta que freqüentemente era discutida por alguns escritores
românticos.
As grandes cidades litorâneas se
modernizavam em grande velocidade; as interioranas estavam em completo
abandono, apontando a contradição dessa modernização pela metade. Por outro,
para alguns escritores esse abandono contribuiria para a preservação do homem
primitivo ou sertanejo, permanecendo inalterado o seu estado original. Contudo,
esse estado primitivo gera conflito quando se comparam os costumes modernos e
os sertanejos que já tinham algum contato com a civilização. Encontramos esses indícios no romance
Inocência: o narrador interfere na narrativa para expor a sua posição quanto ao
modo de pensar do sertanejo em relação às mulheres. Ele discorda da forma
injuriosa que Pereira, pai de Inocência, refere-se a ela, em que o seu tom
discursivo demonstra um pensamento moderno, contrapondo-se ao atraso da
civilização no campo.
Encontramos esses indícios no romance
Inocência: o narrador interfere na narrativa para expor a sua posição quanto ao
modo de pensar do sertanejo em relação às mulheres. Ele discorda da forma
injuriosa que Pereira, pai de Inocência, refere-se a ela, em que o seu tom
discursivo demonstra um pensamento moderno, contrapondo-se ao atraso da
civilização no campo.
Relata José Maurício Gomes
Almeida (1999) que, na década 1870, momento de transição estética e política, o
romantismo dava os primeiros sinais de enfraquecimento, devido às novas
tendências filosóficas e estéticas que se impunham no Brasil, disposições estas
com o início da implantação de um pensamento moderno. Segundo essa tendência à
modernidade, a valorização dos elementos nacionais, a obra Inocência, de
Taunay, encaixou-se dentro da concepção da realidade sertaneja, integrando esse
ser ao movimento moderno. Apesar da sua obra ainda conter essência romântica,
há algumas nuances à observação da realidade tão defendida pelo escritor
Franklin Távora. Conforme Antônio Candido (2006), desde
o início a ficção brasileira teve inclinação pelo documentário, e durante o
século XIX foi promovendo uma espécie de grande exploração da vida na cidade e
no campo, em todas as áreas, em todas as classes revelando o país aos seus
habitantes, como se a intenção fosse elaborar o seu retrato completo e
significativo. Por isso ainda permanece viva a realidade que apresenta seja no
romance do tempo do Romantismo. (CANDIDO, 2006, p. 208).
Podemos dividir a obra Inocência,
de Taunay, em duas partes distintas entre as quais, aparentemente, não
concebemos nenhum vínculo. A primeira parte constitui-se do capítulo inicial e
retrata o sertanejo e o ambiente a partir de um descritivismo que atende à concepção
nacionalista romântica em que homem e natureza estão em harmonia e traça
aspectos que correspondem ao exotismo, ao telúrico, apresentando, dessa forma,
o que há de primitivo e simbólico no país, conforme o comentário de Olga Maria
Castrillon Mendes (2005):
A
sensação que se tem é a de que, ladeada pelo homem sertanejo, a natureza compõe
o quadro que é, ao mesmo tempo, moldura e conteúdo, pois ambos participam de um
conjunto harmônico onde um não se sobrepõe ao outro, mas compõem a cena e
traçam os pictogramas resultantes do exercício do olhar. Natureza e homem
simbioticamente unidos parecem construir o sentido que se pretende simbolizar.
(MENDES, 2005, p. 1).
Além disso, podemos depreender
que esse capítulo serve de introdução a um mundo desconhecido ou pouco
conhecido para a maioria dos habitantes da província e se presta a informar o
público leitor desse universo, aproximá-lo e esclarecer-lhe o que existia
realmente no interior do país, expectativa essa escrita por Taunay, quando se
preparava para viajar com a expedição:
Ao
chegar na cidade de Santos, Taunay cria expectativas quanto o que vai encontrar
no interior do país, entusiasmado pelas cidades e pessoas que vai conhecer que
segundo ele”percorrer grandes extensões e varar até sertões imperfeitamente
conhecidos e mal explorados. (TAUNAY, 2005, p. 146).
E a segunda parte representa o
enredo propriamente, a história do amor impossível entre os amantes. Entendemos
que as duas partes distintas se complementam não prejudicando andamento da história,
sem prejuízos para o desenvolvimento da mesma.
A fidelidade à realidade
observável em Inocência se apresenta nitidamente no primeiro capítulo, Sertão e
o Sertanejo, em que descreve a natureza do sertão, sob o olhar do narrador
viajante, e a relação do homem viajante com esse lugar, no intuito de
familiarizar o leitor com o meio natural, descrevendo-o em detalhes que julga
necessário para que o leitor faça parte dessa viagem e compartilhe com ele essa
experiência do desconhecido.
José Maurício Gomes Almeida
(1999) explica que esse capítulo do romance introduz uma visão turística na
possibilidade de apresentar ao leitor um lugar supostamente desconhecido e
poucas vezes fazendo parte do senso comum, uma fotografia verbal de um lugar
longínquo, em que a natureza predomina diante do homem, freqüentada por
viajantes, acostumado ao ambiente, de acesso difícil para o leitor comum.
A análise documental defendida
pelos contemporâneos de Taunay resume-se, segundo alguns críticos literários, a
este capítulo, dada a valorização e a descrição da natureza, informando e
situando o leitor sobre esse sertão desconhecido, não encontrável em outras
obras, o que faz de Taunay e Inocência singulares à época.
A guerra do Paraguai trouxe outra
conseqüência para literatura nacional: iniciou a desconstrução do nacionalismo
romântico no que se refere à natureza e ao índio brasileiro. Cria-se outro
nacionalismo, uma coesão entre os indivíduos a partir da guerra e da crise que se instaurava, depreendendo e
despertando um sentimento comum entre as populações das províncias. Há um
vínculo crescente entre os indivíduos, uma luta em comum para constituir
unidade entre eles em que a pátria estaria seriamente ameaçada pela
instabilidade política, social e também filosófica.
Por volta de 1860, novas
tendências filosóficas e estéticas promoveram e reforçaram a recusa ao
idealismo romântico, origem de grandes debates de escritores, como Franklin
Távora contra Alencar, que apregoavam novos conceitos que foram absorvidos e
serviram de bandeira por Távora. A observação da realidade, a grande bandeira
dessa tendência, desmorona a visão anterior do herói mítico-simbólico explorado
por Alencar. Toda essa busca cria resistência aos escassos anseios do
nacionalismo consolidado, empregando meios de substituição do elemento
indígena. Contudo, não se poderia dizer a mesma coisa de Taunay, pois, à sua
maneira, a nacionalidade seria a partir da política e pelo orgulho de se
comprometer com a pátria. O autor era mais ativo, quando da sua participação na
guerra, não explorada em Inocência.
O sertanejo trazia vantagens que
o afirmavam como elemento principal atendendo os anseios dos escritores: é um
mestiço tipicamente oriundo das terras brasileiras, resultando da união do
branco e do índio. Assim, poderia ser valorizado por não ter nenhuma relação
direta com o negro, que, sob a visão da sociedade, não serviria para ser o
símbolo nacional.
Outra concepção que dignifica o
sertanejo é pertencer a regiões remotas, quase não havendo nenhuma aproximação
com as cidades litorâneas e, por isso, a sua cultura seria mais legítima, no
sentido de preservar ainda “costumes, hábitos, tradição e a linguagem a
natureza no seu estado original, típico do luar”. (ALMEIDA, 1999, p. 39).
Uma parte importante que compõe o
sertanismo destaca-se pela caracterização do ambiente. O sertão insere o homem,
a paisagem que constitui aspecto relevante coligado com a linguagem que
colabora para unificá-los e serem constituintes de uma obra sertaneja:
é
no âmago da terra que se conservam as grandes tradições morais, sociais e
lingüísticos, e que se elaboram as inovações necessárias, nascidas menos do
capricho da moda como nos autores cosmopolitas ou civilizados do que uma
exigência da própria vida. (TELES, Gilberto
Mendonça; LIMA, Alceu Amoroso, 1980, p. 515).
Assim, o sertanismo é uma das
correntes mais preciosas pela representação de um povo rústico por inserir o
meio e sua ligação com a vida universal.
Essa conservação da cultura
sertaneja pouco foi modificada pela própria distância geográfica entre os
lugares, bastante acidentada, propícia para o seu isolamento, e a própria
comunicação era feita, quando possível, através de viajantes que levavam
consigo as correspondências, promovendo, assim, uma comunicação rara, lenta com
a civilização.
Em Inocência, essa aproximação já
se torna evidente, pois Pereira sabia dos acontecimentos na corte, tinha acesso
a informações pela proximidade com a vila, apesar de pequena, havia
movimentação de pessoas e viajantes.
Nos romances sertanejos há o
destaque da oposição entre campo e cidade, natureza e cultura, o que também se
verifica em Inocência. Nesta obra, o campo representa um lugar intocável,
mantêm-se inalterados os costumes, o patriarcalismo, a palavra jurada, a honra
familiar, a submissão da filha ao pai. A cidade, que podemos representá-la pela
presença de Cirino e Meyer, forasteiros que trazem a civilização e também a
modernidade a lugares quase ermos, cria conflitos na medida em que há alteração
na casa de Pereira quanto aos seus preceitos, que, inicialmente, encontravam-se
inabaláveis.
Todavia, quando interferem,
opinando sobre a posição da mulher naquele mundo arcaico, algo dever ser feito
para que não se modifiquem os padrões já instituídos, tentando-se reparar
aquilo que poderia ser mudado. Cirino, ao penetrar no quarto de Inocência sem a
presença do pai, invade um lugar sagrado e intransponível para estranhos; os
elogios incessantes de Meyer à moça marcam diretamente o posicionamento de
ambos e convergem para o confronto da mentalidade do campo e da cidade.
Vimos, anteriormente, que Cirino
é pessoa estudada e também saiu da região onde foi criado, percorrendo algumas
localidades e estabelecendo-se no sertão, à procura do seu sustento com curas.
O campo simboliza a possibilidade de riqueza e também o seu fim, pois é nesse
lugar que encontra a morte, a degradação e a transformação. O sertão é um lugar
estranho, forte, estático, implacável, majestoso, de adversidades marcantes e
perigoso para quem o desconhece. Isso é sabido também por Taunay, que descreve:
“em geral violências e assassinatos nas estradas se davam por dívidas de jogo e
questões de mulheres. Aí sim, com facilidade e depressa ‘nasciam as cruzes à
beira do caminho’, conforme o prolóquio popular”. (TAUNAY, 2005, p. 349).
O sertão torna-se seu lugar
eterno, pois é palco da morte que o abrigará eternamente. Interessante notar
que este espaço ermo será o lugar de sobrevivência, de alegria e morte da
personagem.
A natureza, o sertão, o homem do
interior e seus modos, são componentes que encontramos em Inocência, servindo
de rememoração das impressões de Taunay, que viu e conviveu de perto com a
realidade rústica, preocupado em não deixar de escrever nenhum detalhe que lhe
serviu de modelo. Dessa forma, consideramos que não há a preocupação do autor
em destacar elementos de caráter nacionalista ou fundar um nacionalismo
literário, mas, sim, conforme Antônio Candido (1981) explicita, duas palavras poderiam sintetizar-lhe a obra:
impressão e lembrança, pois o que há nela de melhor é fruto das impressões de
mocidade, e da lembrança em que as conservou. Uso tais palavras
intencionalmente, em vez por exemplo, de memória e emoção, para assinalar o
cunho pouco profundo da criação literária de Taunay. A sua recordação não vai
àqueles poços de introspecção, donde sai refeita em nível simbólico; nem
equivalem as suas impressões ao discernimento agudo, que descobre novas regiões
da sensibilidade. São dois traços modestos, que delimitam um gráfico plano e
linear. (CANDIDO, 1981, p. 308-309).
Viajante e partícipe da guerra,
para ele o sertão é aquilo que é bruto, forte invencível diante do homem, o
qual deve subjugar e submeter à natureza. O sertão é o lugar quase inabitável
em que hábitos e culturas antigos, em que a morte, a violência do sertanejo
fazem parte dessa realidade rústica; em defesa da honra e da palavra dada, é
empregada a violência como forma de limpar a honra familiar e masculina.
Parece-nos que, indiferentemente
de alguns preceitos românticos ainda prevalecerem, Taunay em nenhum momento
considera a sua obra uma representação do nacionalismo ufanista ou sertanejo. A
obra representa recordações de acontecimentos presenciados no sertão do Mato
Grosso que o marcaram bastante, apresentando ficcionalmente as pessoas, a
natureza, os costumes desse povo do interior, conforme as suas palavras:
“Aliás, nesse sertão, próximo já de vila de Sant’Ana do Paranaíba, colhi os
tipos mais salientes daquele livro, escrito uns bons cinco anos depois de lá
ter transitado”. (TAUNAY, 2005, p. 363).
As estratégias que o autor
utiliza para reinventar a realidade, transportando sua visão de mundo ao leitor
e fazendo dela uma ilusão, reportam-se à realidade. Beth Brait (1987) destaca
na poética de Aristóteles o trabalho de seleção efetuado pelo poeta diante da
realidade e os modos que encontra para entrelaçar possibilidade,
verossimilhança e necessidade.
Não cabe à narrativa poética reproduzir o que existe, mas compor suas
possibilidades. Parece razoável estender essas concepções ao conceito de
personagem: ente composto pelo autor a partir de uma seleção do que a realidade
lhe oferece cuja natureza e unidade só podem ser conseguidas a partir dos
recursos utilizados para criação.
Os elementos inseridos na
narrativa a partir da realidade revelam uma perspectiva nova, o desconhecido
que não interfere na continuidade do enredo, dando-lhe uma feição singular que
o distingue das demais obras, pois “a introdução na obra literária de um
material extraliterário, isto é, de temas que tem uma significação real fora do
desenho artístico, é facilmente compreendida sob o ângulo da motivação realista
de construção da obra”. (TOMACHEVSKI, 1978, p. 189).
O procedimento de integrar ao
romance elementos exteriores à obra deve justificar-se pela sua contribuição,
dando-lhe um caráter particular, evitando que a interferência prejudique os
demais constituintes da obra. Segundo Benedito Nunes (2000, p. 74), a “ficção
combina o imaginário como distanciamento do real imediato, com o poético que
altera, modifica, reorganiza, sob nova perspectiva as representações da
realidade. O nível ficcional do texto, fundado na elaboração poética da
linguagem corresponde a uma variação possível do mundo real. Em vez de demitir
o mundo, a ficção o reconfigura”.
Interessante uma passagem sobre a
mímesis, em que é retomada a teoria de Freud sobre a identificação
desconsiderando a relação do eu com o objeto copiado pela vontade ou
possibilidade de transferir para a mesma situação em que se encontra o copiado.
A semelhança do copiado e do modelo se dá pela interpretação e não pela
coincidência visível. Mesmo porque essa coincidência não tem importância pois
“não é seu caráter de cópia o traço substantivo, mas sim o processo de
transformação que se opera”. (LIMA, 1984, p. 64).
Quando Taunay (2005), em suas
Memórias, faz questão de retomar alguns trechos que serviram como fonte para
sua obra prima, percebemos a sua preocupação em não deixar no esquecimento
acontecimentos que o marcaram durante a sua viagem e informar aqueles que não
puderam estar lá Taunay foi soldado militar do exército brasileiro, o que lhe
deu oportunidade de observar os lugares, pessoas, costumes, e a guerra, que lhe
serviu de inspiração para escrever. A sua participação constante, direta ou
indiretamente, nas campanhas militares contribuíram para iniciá-lo nas
escritas, obtendo muitos assuntos para escrever.
Comenta Maria Lídia L. Maretti
(2006) que os seus escritos apresentam técnicas aprimoradas de descrição, tanto
reproduzido a partir do seu dia-a-dia como de suas lembranças.
Ele discordava de Alencar quanto
à idealização do sertanejo, que não cabia mais naquele momento, conforme ele
mesmo escreve:
Fatal
por muitos motivos foi às lettras brasileiras o prematuro desapparecimento de
José de Alencar, apezar de alguns defeitos que tinha como escriptor, sua
teimosia, o aferrado apego às formulas convencionaes, o subjectivismo contínuo
de todas as suas observações e a falta sensível de exacta contemplação da
natureza especial, em cujos seio se achava.
Basta
dizer que transportou os pampas, vastíssimas planícies cisandinas, para a
princia do Rio Grande do Sul, quando lá todo o terreno é profundamente dobrado
— coxilhas, que se succedem umas às outras, cortadas, nos encontros, de arroyos
e sangas. Basta lembrar todo os seus índios a fallarem a linguagem gongorica e
poética que Chateaubriand, na sua por vezes intolerável idealisação, pôz na
boca dos Natchez, fazendo Chactas, Utugamiz eméritos, disfarçados em selvagens
do Meschacebé. (TAUNAY, [1933?], p. 54-55, grifos do autor).
Pelas viagens que contribuíram
para escrever Inocência, não há inicialmente preocupação sobre o sertanismo,
como Alencar, Franklin Távora e Bernardo Guimarães. Tenta-se encaixá-lo pelas
manifestações romântica ou naturalista que a obra possa conter, discussão em
que não adentraremos. Taunay figura mais a preocupação em descrever
particularizando a natureza, o sertanejo, através da observação da realidade
que tenta retratar no romance.
Inocência se destaca pelas
peculiaridades. As epígrafes utilizadas na introdução dos capítulos do romance
representam a presença do autor com cuja narrativa estabelece um diálogo e cria
um novo efeito estético: indica as possíveis leituras do autor, sempre se
remetendo à literatura clássica européia e incorporando a construção das
personagens e das situações retratadas.
Além disso, as palavras grifadas,
as notas de rodapé, as expressões próprias do linguajar da região situam o
leitor ao momento presente da narrativa e o leva a esse mundo pouco conhecido,
para estreitar as distâncias dos dois mundos diferentes, além de informar o
público citadino sobre o lugar, as pessoas, os costumes desconhecido do mesmo e
manter o leitor cativo a essa leitura.
A presença de
notas do próprio autor referentes a alguns termos usados nas falas das
personagens supõe que a linguagem do homem do sertão possa ser desconhecida ao
leitor urbano e expressa a preocupação do autor em tornar acessível o
entendimento dos diálogos para estes leitores.
A ironia do narrador na obra
representa a crítica às personagens e situações que as envolvem. Ele intervém
em alguns trechos, tornando-se uma figura quase ausente, diferenciando-se de
outros romances, como os de Alencar, conforme comentário de José Maurício Gomes
Almeida (1999), cujos narradores intervêm na narrativa freqüentemente para dar
explicações sobre “ação das personagens, características psicológicas das
mesmas, para sustentar a verossimilhança, fazer comentários” (ALMEIDA, 1999, p.
118), técnicas utilizadas nos romances europeus e importadas pelos escritores
românticos.
Um estudo de Frederick Garcia
(1970, apud MARETTI, 2006) sobre as diversas traduções de Inocência provoca
comentários de alguns críticos sobre a mesma obra, um dos livros portugueses
mais traduzidos depois dos Lusíadas. Segundo Frederick Garcia (1970, apud
MARETTI, 2006), todo esse trabalho de tradução tinha o intuito de divulgar o
Brasil. Isso nos lembra um dos preceitos românticos de apresentar elementos
oriundos do país e, dessa forma, descobrir a originalidade, o primitivo da
nação, demonstrando a preocupação ainda em apresentar os elementos espaciais,
além do homem sertanejo, realmente digno do país, facilitando a conquista da
consagração e sucesso internacional do romance Inocência.
A partir daí surge uma concepção
contrária ao nacionalismo romântico tão apregoado durante o período de
tranqüilidade, às vezes perturbada por disputas partidárias de pequenas
proporções pela guerra da Prata. Essa paz aparente foi estremecida pela guerra
do Paraguai por volta de 1865 a 1870, e a temática nacionalista retorna
revolvendo a responsabilidade dos povos em constituir uma nação coletivamente,
pois estes se encontravam em províncias isoladas e distantes entre si,
ignorando-se uns aos outros, comportamento mudado pelo sentimento comum que
despertara o patriotismo causado pela guerra.
Esse novo acontecimento propiciou
um intercâmbio entre as províncias, a união dos povos para lutar contra o
inimigo comum que ameaçava a soberania nacional: o Paraguai. A população se
armava com espadas e discursos inflamantes. Segundo José Veríssimo (1981, p.
220), o “amor, a morte, o desgosto da vida, os queixumes melancólicos
remanescentes do romantismo cederam lugar a novos motivos de inspiração”.
Surgem novos acontecimentos que
contribuíram para a discussão da posição adotada pelos críticos até então em
relação ao nacionalismo romântico. A partir desse momento não caberia mais
seguir com esses pressupostos românticos. Defendia-se um novo patamar para o
nacionalismo, não o rejeitando, mas era legítimo e necessário. José Veríssimo
(1954) faz a seguinte avaliação:
Iniciava-se,
porém, a reação ao romantismo, sob o seu aspecto de nacionalismo exclusivista.
Após largos anos de paz, de tranqüilidade interna, de remansosa vida pacata sob
um regime liberal e bonachão, apenas abalada por mesquinhas brigas partidárias
que não lograram perturbá-la, rebentou a guerra do Paraguai, que durante os
últimos cinco anos do decênio de 60 devia alvoroçar o país. Pela primeira vez
depois da Independência [...] sentiu o povo brasileiro praticamente a
responsabilidade que aos seus membros impõem estas coletividades chamadas
nações. Ele, que então vivia segregado nas suas províncias, ignorando-se
mutuamente, encontra-se agora fora das estreitas preocupações bairristas do
campanário, num campo propício para estreitar a confraternidade de um povo, o
campo de batalha. De província a província trocam-se idéias e sentimentos;
prolongam-se após a guerra as relações de acampamento. Houve enfim uma vasta
comunicação interprovincial do Norte para o Sul, um intercâmbio nacional de
emoções, cujos efeitos se fariam sentir na mentalidade nacional. (VERÍSSIMO,
1954, apud MARETTI, 2006, p. 262-264).
Assim, acreditamos que delegar à
obra Inocência a missão de exteriorizar as peculiaridades que expressassem o
espírito nacional, não competiria para tal tarefa. Na obra, o amor romântico é
narrado no interior do país, especificamente no Brasil Central, relacionando a
descrição minuciosa da natureza, hábitos, costumes e do cenário, elementos que
proporcionam um lugar distinto dos demais romances sertanistas. O autor
transformou toda a sua experiência de viajante e a deslocou para a narrativa,
trazendo aspectos desconhecidos em outras obras: a descrição do ambiente, a
fala do sertanejo, o seu modo de pensar e agir, que não constitui símbolo de
orgulho ufanista tão valorizado pelos românticos.
A tendência sertanista manifestou
através das descrições do homem do interior, estudar seus usos, costumes, vida
social, ambiente natural, de onde imprimia uma vida singular, existencial.
Taunay viu esta realidade de perto: o sertanejo e sertão bruto. Essa
aproximação a outra realidade pouco conhecida de Inocência revelou um Brasil
com sua natureza e tipos humanos ainda não explorados. Além disso, o romance
segue a tendência romântica de protótipos românticos consagrados, jovens
dominados pela paixão
pais despóticos no exercício do pátrio poder, noivo violento, modelos
sugestivos que Taunay tomou para o seu romance.
Assim, acreditamos que o seu
romance representa mais do que simbolizar uma heroína romântica ou manifestar
ideais nacionalistas, era traduzir um sertão visto por ele, impregnado de
recordações dos lugares visitados, dos habitantes do interior, impressões que o
marcaram dessa realidade pitoresca e distante no interior do sertão central.
---
Fonte:
LUCIENE CARMO NONATO OLIVEIRA:
"Tradição, nacionalismo, angústia: um
estudo sobre a obra Inocência, de Visconde de Taunay". (Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Letras — Curso de Mestrado em Teoria Literária do Instituto de Letras e Lingüística
da Universidade Federal de Uberlândia para a obtenção do título de Mestre em
Letras. Linha de pesquisa: Perspectivas Teóricas e Historiográficas no Estudo
de Literatura. Orientador: Prof. Dr. Ivan Marcos Ribeiro). Uberlândia, 2009.
Nota:
A imagem inicial inserida no texto não se inclui na referida tese.
As notas e referências bibliográficas de que faz menção o autor estão devidamente catalogadas na citada obra.
O texto postado é apenas um dos muitos tópicos abordados no referido trabalho.
Para uma compreensão mais ampla do tema, recomendamos a leitura da tese em sua totalidade.

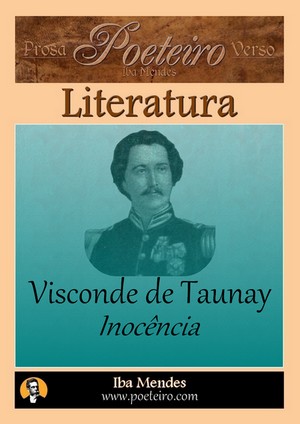
Nenhum comentário:
Postar um comentário